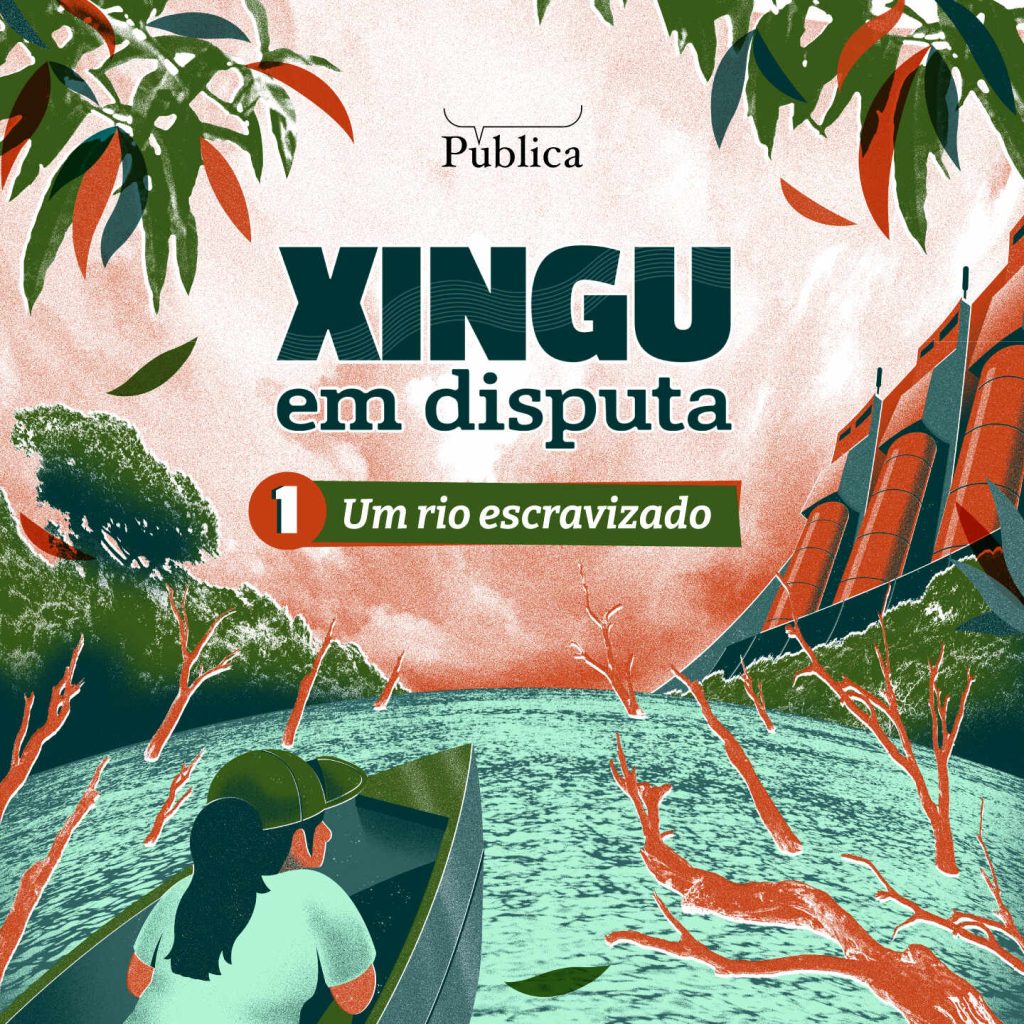Ao longo de milênios, as águas cristalinas do Xingu moldaram uma paisagem especial, com biodiversidade única e lar de centenas de pessoas, no coração do estado do Pará. Ali, todos dependiam dos ciclos de cheia e seca desse grande rio amazônico. O Xingu era o pulso. Até que o estado brasileiro decidiu usar esse pulso para mover uma usina hidrelétrica. Barrou as águas do rio. E mudou absolutamente tudo.
Neste episódio, mergulhamos na transformação forçada do Xingu, que de rio fonte de vida virou reservatório, fonte de energia, pela voz de quem ainda vive as consequências. A pescadora Sara Rodrigues Lima, nascida e criada na beira do Xingu, conta como era o rio que ela conhece tão intimamente desde criança. E descreve como foi assistir à construção da “maior hidrelétrica 100% brasileira”. Com a repórter Isabel Seta, ela resgata o passado dessa obra gigantesca, idealizada ainda na ditadura e levada a cabo pelos governos Lula e Dilma. Uma história que ainda não acabou e, por isso mesmo, precisa ser contada.
Confira a nota da Norte Energia na íntegra aqui.
Leia abaixo o roteiro do episódio na íntegra:
[Isabel Seta]
Eu nasci, cresci e moro numa cidade com dois rios muito poluídos, fedidos, agonizantes. Muita gente, quando passa por eles, até finge que eles nem estão ali. Já eu, que por anos pegava um trem do lado de um deles pra chegar no trabalho, não conseguia ignorar o mau cheiro.
E eu sempre ficava imaginando se não dava pra ser diferente. Imaginando uma cidade em que as águas não tivessem virado esgoto. Uma cidade que não pensasse nesses rios só na hora de falar mal deles. Tipo quando eles enchem o bairro do entorno de mosquitos, por exemplo. Ou quando eles transbordam, com qualquer chuva mais forte, naquela receita do caos.
Pelo meu sotaque, você já deve ter percebido que eu sou de São Paulo. E tô falando do rio Pinheiros, que corre ao longo de 25 km da cidade, e do rio Tietê, que atravessa todo o estado. Dois rios em que, não sei como, a vida ainda dá um jeito de aparecer, mas que já tem muito tempo não convivem mais com os moradores da cidade. Por isso, fiquei tão impressionada quando eu ouvi a Sara falar do rio dela.
[Sara]
Era uma comunicação que a gente tinha com o rio, que nós, povos tradicionais, não sabemos explicar. Porque a gente escuta, a gente sente, a gente bebe o rio, a gente é o rio.
O rio era livre, o rio era selvagem, as correntezas dos rios, todo mundo tinha medo. Porque era medrosa, a velocidade que o rio descia, a velocidade que ele vinha, sendo destemido, sendo temido.
[Isabel Seta]
O rio era livre. Você já parou pra pensar o que é liberdade?
[Sara]
Essa pedra, quando a gente tinha seis, sete anos, a gente pulava lá de cima. Um monte de menino, era super alta ela, muito alta mesmo, a gente pulava de lá. A nossa vida, a nossa convivência com o rio, a gente tinha alegria, a gente tomava banho de chuva e depois que a gente tomava banho de chuva, a gente ia pro rio, se jogar na água, porque a nossa diversão era o rio.
[Isabel Seta]
Para Sara, liberdade era um lugar, um tempo, uma época de fartura.
[Sara]
Vários cardumes de peixe, a gente pulando nele, a gente comendo o melhor peixe que existia. Nós sabíamos a hora de ir pro rio pescar, a gente escolhia o peixe pra comer. A gente ia lá, se pegava um peixe pequeno, a gente devolvia pro rio. O rio se comunicava com todos nós, o rio era farturoso, o rio era lotado de vidas.
[Isabel Seta]
Liberdade é também essa convivência tão próxima, tão íntima, que se confunde com a sua própria identidade.
[Sara]
E fui pega por parteira. O meu primeiro banho foi no Xingu, no rio Xingu. Quando eu nasci, eu já banhei nas águas do rio.
[Isabel Seta]
Xingu é o rio da Sara, onde ela nasceu e cresceu. É também um dos maiores e mais importantes da Amazônia.
[Sara]
A gente ia pro rio, a gente enxergava de dois, três metros, no fundo do rio, de tão claro que é água, uma água cristalina, uma água linda.
[Isabel Seta]
Ao longo de milênios, as águas cristalinas do Xingu moldaram uma paisagem especial, com uma biodiversidade única. Ali tem mais espécies do que em toda a Europa. Algumas delas não existem em nenhum outro lugar do mundo. Essas águas ditavam o ritmo da vida da Sara e de todas as outras vidas da região. O Xingu era o pulso. Até que o estado brasileiro decidiu usar esse pulso para mover uma usina hidrelétrica. Barrou as águas do rio. E mudou absolutamente tudo.
[Sara]
Eu me sinto triste hoje porque os meus filhos não conseguiram ver o rio como eu vi, como eu vivi.
[Isabel Seta]
Eu sou Isabel Seta, e esse é o primeiro episódio de Xingu em Disputa, um podcast da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Nessa série, a gente vai falar da história da transformação forçada do Xingu, que de rio fonte de vida se tornou reservatório, fonte de energia. Essa é a história das consequências que a maior hidrelétrica 100% brasileira, a Usina de Belo Monte, trouxe pro rio e pros seus habitantes.
E também do que aconteceu 10 anos depois que as águas do Xingu, no estado do Pará, começaram a ser desviadas para gerar energia hidrelétrica. Uma história de violências, de fim de mundos. Mas também da insistência da vida, da persistência das lutas coletivas.
E mais importante, uma história que ainda não terminou. E que, por isso mesmo, precisa ser contada.
Episódio 1 – Um rio escravizado
A Sara Rodrigues Lima, que a gente ouviu no começo do episódio, se lembra muito bem de como era a vida antes dessa transformação.
[Sara]
Eu nasci aqui, eu tenho 41 anos, eu nasci aqui, eu sou filha do Xingu.
[Isabel Seta]
Desde que se entende por gente, ela é pescadora e beiradeira. Beiradeira e beiradeiro é a forma com que muitos ribeirinhos se chamam na Amazônia. São os que vivem nas beiras dos rios.
[Sara]
Eu fui criada com peixe, eu fui criada bebendo caldo de peleca, bebendo caldo de tucunaré, bebendo caldo de todo tipo de peixe que tem aqui. Que nem eu sempre falo para os meus filhos, eu bebi quase caldo de peixe na mamadeira.
[Isabel Seta]
Quando eu conheci a Sara, a primeira coisa que eu prestei atenção foram os olhos dela. Grandes, castanhos. E, mais que tudo, atentos. Daqueles que não deixam passar nada. Num primeiro momento, ela me pareceu estar sempre elétrica. Mas depois, reparando melhor, eu vi nela uma serenidade. A Sara tem aquela presença. Aquele olhar de gente que sabe bem quem é e o que quer.
Ela me contou que tinha uns quatro anos de idade quando começou a aprender a pescar. Aos seis, ela já pedia para o pai, o seu Valeriano, para ir junto com ele nas pescarias. Imaginem essa cena: uma menininha com o anzol pequeno, com uma minhoca na ponta, tentando pegar tucunaré de cinco quilos.
[Sara]
A gente não tem como explicar essa comunicação que a gente tem com o Xingu. Ele chama a gente. Então a gente tem que ir. A gente tem que aprender. Se hoje eu sei o fluxo do rio, se hoje eu sei o peixe que está faltando, se hoje eu sei tudo que está acontecendo, porque o rio me ensinou através do meu pai.
[Isabel Seta]
Quando ela nasceu, a família vivia numa comunidade de umas 20 casas de beiradeiros nas margens do Xingu e da rodovia Transamazônica, a uns 70 quilômetros do centro da cidade de Altamira. Toda a comunidade vivia do Xingu. Todo mundo pescava, fosse para vender, fosse para a própria alimentação. E era tanto peixe, e uns peixes tão bons, que com o tempo a comunidade foi ganhando fama na região. Virou ponto de parada obrigatório para o almoço. Era só seguir o cheiro de peixe frito.
[Sara]
Cheiro de peixe frito com tucupi, eu amava. Até um tempo desse tinha gente que falava sobre esse peixe que vendia frito aqui na balsa, de Belo Monte.
[Isabel Seta]
Não, a Sara não está falando aqui da hidrelétrica, mas da Belo Monte Original. Belo Monte é o nome da comunidade com cheiro de peixe frito onde ela nasceu, cresceu e sempre viveu. Era o nome de casa, até que veio a usina.
[Sara]
Muita gente pensa, ah, mas Belo Monte não é a barragem? Belo Monte não é a hidrelétrica? Eu falo: ‘não’. A hidrelétrica roubou o nome da nossa comunidade e colocou naquela maldita onde está destruindo o nosso Xingu.
[Isabel Seta]
Por isso, ela prefere outros nomes para a hidrelétrica.
[Sara]
Belo Monte não, porque aquilo dali não é chamado de Belo Monte, é chamado de quê? De monstro, de devorador.
[Isabel Seta]
Monstro devorador. Para os moradores de Belo Monte original, desde que Belo Monte, a usina, começou a funcionar, há quase 10 anos, ela devora a maior parte da água que antes corria às margens da comunidade, na região da Volta Grande do Xingu. E sem água, a Volta Grande não é mais o que era.
[Sara]
Aqui no Xingu, eu estou aqui em Belo Monte. O rio aqui corria tanto que a balsa, que atravessa de um lado para o outro, descia muito embaixo e vinha fazendo percurso, subindo contra a correnteza, para ti ver o grau que era o Xingu, que era a força do Xingu. Para hoje, ele estar assim. O Xingu, eles prenderam o Xingu, o Xingu está preso.
[Isabel Seta]
Para mim, vendo o Xingu pela primeira vez, foi difícil entender isso. Porque ali, diante daquelas águas, das corredeiras, da explosão de árvores e plantas nas margens e nas ilhas, eu te confesso que o rio ainda me pareceu bem bonito. Mas é que, para entender a tristeza da Sara, é preciso ir além do meu olhar de estrangeira.
O Xingu nasce no Mato Grosso e segue para o norte, cortando o Pará até desaguar no rio Amazonas. Um curso imenso, de quase 2 mil quilômetros. Antes de chegar na foz, quando o rio passa por Altamira, no Pará, ele faz uma curva, também gigante, com 130 quilômetros de extensão, terminando ali na altura da comunidade de Belo Monte, já no município vizinho de Anapu.
E por isso esse nome, Volta Grande. Um lugar único, onde foi instalada a usina hidrelétrica de Belo Monte. Eu nunca tinha visto uma paisagem como a da Volta Grande. O rio parece que se ramifica em vários, passando entre ilhas tomadas pela vegetação e formando corredeiras agitadas, às vezes bem difíceis de navegar. No meio da água, aqui e ali, aparecem trechos cheios de pedras, os chamados pedrais. E tem ainda os sarobais, também no meio da água, um emaranhado de árvores de pequeno porte e arbustos, muitos deles frutíferos, que crescem entre as pedras do leito e passam meses submersos, adaptados ao ritmo do rio. Nas margens, o rio se espalha pelas matas alagadas — os igapós. Florestas que vivem entre dois mundos, metade do ano secas, metade nas águas, como se respirassem no compasso das cheias.
E se você tá estranhando esses nomes, você não está sozinho. Eu não sabia de nada disso quando cheguei lá. Muito menos os nomes dos vários seres que vivem na Volta Grande. Só de fruta tem sarão, figo, oxi, goiabinha, bananinha, goiabão, seringa, capurana, caferana. E os peixes? Pacu, pacu de seringa, matrinxã, piá, cadete, acari, tucunaré, curimatã, pescada.
[Sara]
A gente tá falando de peixes que tinham saúde, que podiam se desenvolver e crescer. Eles tinham habitat natural, eles tinham os igapós para poder reproduzir. Eles tinham água em abundância.
[Isabel Seta]
Das 63 espécies endêmicas de peixes conhecidas na Bacia do Xingu, 26 só existem nas corredeiras da Volta Grande. É o caso do acari-zebra, um peixinho que chega a no máximo 8 centímetros, todo listradinho de branco e preto. É a coisa mais linda. Procura depois uma foto.
Tem também as famosas tracajás, uma espécie de tartaruga com manchas amarelas na cabeça. Fora os muitos outros répteis, e anfíbios, e aves, e mamíferos. Uma riqueza que acabou atraindo também os humanos, que vivem na Volta Grande há séculos. Todos guiados pelo ritmo do rio, que sobe e desce, enche e esvazia, de acordo com as duas estações do ano na Amazônia. Verão, época de seca, e inverno, época de chuvas. Ou, pelo menos, era assim, antes da chegada da hidrelétrica.
Antes, no inverno, o nível do Xingu costumava subir bastante. As pedras ficavam submersas, as florestas das margens alagavam. E com o rio mais cheio, era mais fácil navegar e pescar algumas espécies. Já no verão, acontecia o inverso. O nível do rio baixava muito, revelando, novamente, os pedrais, as praias das ilhas. Era um ciclo previsível. Enchente, cheia, vazão e seca. Que a Sara e a família dela conheciam muito, muito bem.
[Valeriano]
Antigamente que nós ia pescar, quando chegava no comecinho de outubro essa água já tava aumentando, gente! Quando tava no dia 15 de outubro, nós tinha que descer, nós tinha que vir embora, vamos. Nós se mandava.
[Isabel Seta]
Esse é o seu Valeriano, o pai da Sara. Ele chegou em Volta Grande em 1975, ainda adolescente. Poucos anos depois da inauguração da rodovia Transamazônica. Era o período da ditadura. E o governo militar incentivava a migração para a Amazônia de pessoas de outras regiões, como o Sul e o Nordeste. Foi o caso do seu Valeriano. Ele, com 16 anos, saiu do litoral do Ceará, com um tio, para trabalhar com o extrativismo no Pará. Até então, ele só sabia pescar no mar. E daí, conheceu o Xingu.
[Valeriano]
A água subia, quando dava no mês de novembro, dezembro, isso daqui tava só marzão d´água, nós cansava de entrar aqui ó de canoinha batendo caniço aqui, não dava tempo. Peixe, bastante!
[Isabel Seta]
A canoinha, que o seu Valeriano fala, é literalmente uma canoa pequena, usada pelos beiradeiros para conseguir navegar pelos igarapés e pelos igapós, as matas alagadas. Já o caniço é um tipo de varo usado para pescar.
[Valeriano]
O pescador sabe o que existe no rio, porque ele mora dentro. Nós mora é aqui mesmo no beiradão, dentro do rio, barraco aqui, tem barraco ali do outro lado ali. Nós vive dia e noite aqui. E sabe do movimento do peixe.
[Isabel Seta]
Se os pescadores sabem do movimento do peixe, o peixe sabe do movimento do rio.
[Sara]
Os igapó, onde a água entrava, o rio Xingu entrava, se comunicava a hora que ele ia entrar. Ele falava, é momento da reprodução, os peixes tudo acompanhavam.
[Isabel Seta]
Essa dança entre chuva e seca sempre foi mais do que uma mudança de cenário. Foi a bússola que guiava a vida na Volta Grande. Toda a vida. Dos humanos, que organizavam suas rotinas conforme a estação. Quando abrir roça, quando colher frutas e castanhas, quando tirar o látex da seringueira, onde caçar. Mas também dos animais e das plantas, que sincronizavam seus períodos de migração, reprodução, florescimento e frutificação.
Como é de se imaginar, uma sintonia fina dessas não foi construída de uma hora pra outra. A bacia do rio Xingu está entre os terrenos mais antigos do planeta. Por isso, o leito do rio é estável há milhões de anos. Não muda de curso, não abre novos caminhos. E é justamente essa constância, essa estabilidade, que sustenta todo o ciclo de vida ao redor. Tudo pulsa no compasso do rio. Até que veio a usina de Belo Monte. E aqui, a história da Sara e do Xingu começaram a mudar.
[Sara]
Mas a gente não sabia o que era uma usina hidrelétrica na porta da nossa casa, no fundo do nosso quintal, no fundo do rio, onde eles… a gente não tinha dimensão onde eles abririam uma cratera para desviar o fluxo da água.
[Lula – Arquivo TV]
“Qualquer pessoa de bom senso sabe que o projeto que nós estamos fazendo hoje é menos agressivo ao meio ambiente do que era o projeto original.
[Isabel Seta]
Era agosto de 2010. E o presidente Lula, já no fim do seu segundo mandato, acabava de assinar o contrato de concessão de Belo Monte.
[Lula – Arquivo TV]
“O projeto original, no mínimo, era 50% maior do que esse projeto. O lago era muito maior.”
[Isabel Seta]
O tal projeto original, mencionado pelo presidente, nasceu ainda na ditadura. Quando o regime militar colocou em marcha aquele projeto de ocupação da Amazônia com grandes obras. Tipo a rodovia Transamazônica. O objetivo? Integrar para não entregar.
[Propaganda – Arquivo de TV]
“O presidente Médici, inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do programa de integração nacional elaborado pelo atual governo.”
[Isabel Seta]
Mas a ditadura queria mais do que integrar, né? Queria fazer dinheiro mesmo. Uma propaganda impressa da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam, deixa isso bem evidente. E como não tem áudio, eu te conto. A imagem trazia um mapa do Brasil com a região amazônica ilustrada por gado, plantações, mega-obras, engenheiros trabalhando. E a legenda que eu abro aspas: “Chega de lendas. Vamos faturar.” No texto que acompanha a imagem, a Transamazônica é apresentada como, abrindo aspas de novo, a pista da mina de ouro.
Como eu contei, o seu Valeriano foi um dos muitos brasileiros que seguiu essa suposta pista da mina de ouro. Em 1975, no exato ano em que ele pisava pela primeira vez na Volta Grande, o regime militar produziu os primeiros estudos de aproveitamento hidrelétrico do rio Xingu. Chamando a atenção pra onde? Justamente pra Volta Grande, onde o rio tem um desnível de quase 70 metros ao longo de vários quilômetros. Os analistas do governo viram nesse desnível um grande potencial hidráulico. Nascia, então, o tal projeto original.
Era a usina hidrelétrica Kararaô, que pretendia barrar o Xingu, formando um reservatório gigantesco, do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Esse mega reservatório ia alagar grandes porções da floresta e várias terras indígenas. Para completar, se apropriava de um nome indígena. Kararaô significa grito de guerra, na língua Kayapó. Um dos povos que teriam suas terras inundadas.
Só que os Kayapó e os outros grupos indígenas não iam ficar de braços cruzados diante de tudo isso, né? Muito pelo contrário.
[Sara]
Essa hidrelétrica veio na ditadura, né? Foi enfiada de goela abaixo. Muitos e muitos lutaram. Muitos indígenas lutaram contra para não sair, movimentos sociais lutaram para não sair…
[Isabel Seta]
Essa é a guerreira Tuíre Kayapó, que protagonizou uma cena que rodou o mundo e estampou capas de jornais e revistas. Era 1989, e dezenas de organizações indígenas e movimentos sociais estavam reunidos para o primeiro grande encontro dos povos indígenas do Xingu, na cidade de Altamira. A ideia era discutir os planos da hidrelétrica. E lá estava também o representante da Eletronorte, a estatal responsável pelo projeto. O nome dele? José Antônio Muniz Lopes. Ele estava lá, explicando o projeto, quando a Tuíre foi até o palco, criticou a usina e, num claro sinal de advertência, encostou o facão no rosto do Muniz Lopes, rendendo uma foto que ficou famosíssima e que talvez você até já tenha visto.
Era o início da redemocratização. Um tempo em que a sociedade civil recuperava a sua voz. E foi nesse contexto que a campanha indígena contra o projeto da hidrelétrica começou a ganhar força. Organizações ambientais, ativistas e até aliados internacionais, como o cantor Sting, se uniram aos protestos contra o megaprojeto, que, literalmente, ia alagar a floresta. O que estava em jogo era grande, mas a resistência não ficava atrás.
[Arquivo TV]
[Mix de arquivos.]
[Isabel Seta]
Foi muita pressão. E, no final, deu certo. Os indígenas conseguiram enterrar Kararaô, ao menos por um tempo.
Mas no início dos anos 2000, as condições já tinham mudado. E a ideia de usar o Xingu como fonte de energia começava a ser ressuscitada.
[Sara]
Então, eles vieram. Eles falaram que ia gerar emprego, muita gente que não vivia do peixe ficaram animadas. Eles falaram coisas lindas. Eles entraram na cabeça das pessoas leigas, das pessoas inocentes, das pessoas que não entendiam muito o que era uma hidrelétrica.
[Isabel Seta]
Estava todo mundo traumatizado com a crise dos apagões e o racionamento de energia do governo Fernando Henrique. E o país estava crescendo, assim como o consumo de energia elétrica, que aumentava mais rápido do que a capacidade de produção. E não é novidade para ninguém que o Brasil tem um enorme potencial hídrico. 12% das reservas de água doce do mundo estão aqui. Então, gerar uma energia usando os nossos recursos naturais e abundantes continuava parecendo uma boa ideia. E lembra do que o Lula disse?
[Lula – Arquivo TV]
“O projeto original, no mínimo, era 50% maior do que esse projeto. O lago era muito maior.”
[Isabel Seta]
Dá para dizer que rolou uma repaginada. Para tentar conter as críticas e as manifestações da sociedade civil, o projeto foi redesenhado com uma diferença fundamental. Abandonar o reservatório do tamanho do Rio de Janeiro e usar apenas o fluxo do próprio rio Xingu para gerar energia. Um modelo que é conhecido como fio d ‘água. Já te explico melhor. Detalhe não menos importante: também mudaram o nome. Kararaô virou Belo Monte. Uma apropriação por outra.
A proposta avançou. Ainda em 2005, no primeiro mandato do Lula, uma das primeiras etapas necessárias foi vencida. O Congresso Nacional autorizou a execução do projeto.
[Lula – Arquivo TV]
“O Brasil está crescendo forte e vai crescer ainda mais. Precisa e precisará cada vez mais de energia limpa, barata e segura. Razão pela qual nós temos a responsabilidade de fazer Belo Monte.”
[Isabel Seta]
E daí, no início do segundo mandato, Belo Monte entrou no Programa de Aceleração do Crescimento. Era a maior obra do PAC. E adivinhem, aquele engenheiro que sentiu no rosto o facão da Tuíre, o José Antônio Muniz Lopes, foi escolhido para presidir a Eletrobras, que capitaneava o projeto.
Não demorou muito para uma nova onda de críticas passar a rondar Belo Monte. A pressão mais uma vez estava crescendo. Assim como as perguntas. A quem realmente interessava essa obra? E a que custo? Ok, então a hidrelétrica não iria mais inundar terras indígenas. Mas isso não quer dizer que estava tudo bem com a versão repaginada. Isso porque muitos especialistas já estavam alertando que esse tal modelo a fio d ‘água por uma usina desse porte era arriscado. Muito arriscado. Ia dar ruim.
[Suely Araújo]
Na verdade, a opção pelo sistema de captação a fio d ‘água foi para diminuir o tamanho do reservatório.
[Isabel Seta]
Essa é a urbanista e advogada Suely Araújo. Hoje coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, ela entende como poucos sobre hidrelétricas e sobre licenciamento ambiental. A Suely também foi presidente do Ibama entre 2016 e 2018, depois que a licença de operação da usina de Belo Monte já tinha sido concedida pelo órgão.
Diminuir o tamanho do reservatório significava mudar o paradigma para hidrelétricas desse porte. Eu explico: Outras grandes usinas construídas pelo regime militar, como a própria Itaipu, no rio Paraná, e Tucuruí, no rio Tocantins, alagaram áreas imensas para fazer os seus reservatórios. E são eles que garantem que essas usinas continuem gerando energia mesmo quando o volume dos rios está baixo. Mas essa escolha levou a um enorme passivo socioambiental, que nunca foi reparado. Regiões de floresta, lavouras, comunidades, simplesmente desapareceram.
O reservatório de Itaipu colocou debaixo d ‘água áreas sagradas e até antigos cemitérios. Milhares de famílias foram expulsas de suas terras. Só no caso de Tucuruí foram quase 10 mil. Então a ideia do governo para Belo Monte de desistir do grande reservatório e usar a força da água provocada pelo desnível natural do leito do Xingu parecia menos invasiva. Pelo menos no papel.
Mas é aí que mora o problema. Como a Sara, os beiradeiros, os pescadores, os povos indígenas e todo mundo que vive naquela região está cansado de saber, o Xingu muda de acordo com a estação. E é muito dependente das chuvas. Quer dizer, a vazão dele, o volume de água que corre em determinado trecho a cada segundo, varia bastante ao longo do ano, em até 40 vezes, ficando muito reduzida no verão, época de seca. Já deu pra sacar que não ia ter como gerar muita energia o ano todo, né?
[Suely Araújo]
O reservatório que está lá, ele é, na verdade, de regularização para garantir a geração, mas ele não é de acumulação. Quer dizer, quando tiver uma grande seca no Xingu, Belo Monte diminui muito a geração. Isso tem ocorrido na época de seca.
[Isabel Seta]
E isso nunca foi segredo pra ninguém. Desde o início se sabia que a potência instalada de milhares de megawatts, a segunda maior do país, só atrás de Itaipu, só ia ser alcançada com sorte em alguns meses do ano, durante o inverno amazônico. Mas na maior parte do ano, a usina não ia ter como funcionar com todas as turbinas ligadas. O próprio projeto reconhecia isso, tanto que a usina foi planejada para gerar, em média, menos da metade dessa potência instalada. É tipo ter um carro de corrida circulando a 60 quilômetros por hora.
Uma obra caríssima, com um custo inicial estimado em 19 bilhões de reais, que depois passaram para quase 29 bilhões, o que em valores de hoje seriam 60 bilhões, para ter menos da metade da energia que a usina era capaz de produzir? Só que, claro, o problema nem era só esse. Porque mesmo sem o mega-reservatório, os impactos socioambientais da usina não eram nada desprezíveis.
[Sara]
Então, assim, quando chegou essa notícia… que o desenvolvimento ia chegar para cá, para o Belo Monte, para a Volta Grande do Xingu, eu mesma, como todos os outros pescadores, não sabia a dimensão do que era uma usina hidrelétrica, porque a gente não vivenciou isso nunca na vida. Entendeu? A gente viu falar sobre Tucuruí, a gente viu falar sobre aquilo, mas a gente não vivenciou aquilo. Tucuruí sempre falava, aquela barragem de Tucuruí, os pescadores sempre falavam que acabou com a vida deles.
[Isabel Seta]
Em 2009, os alertas dos povos locais ganharam um apoio de peso. Um grupo de 40 cientistas publicou uma análise independente sobre o Estudo de Impacto Ambiental de Belo Monte, que tinha sido apresentado pela Eletrobras ao Ibama. Esse estudo de impacto é o documento mais importante de todo o processo de licenciamento. Porque é ele que tem que prever, com precisão, os danos ambientais, sociais e econômicos de um projeto como esse, até pra que esses danos possam ser evitados, ou sanados.
Os cientistas apontaram faltas graves no estudo da Eletrobras, como não prever o risco de proliferação de doenças e subestimar o tamanho da população que ia ser impactada pela obra. Eles também mostraram que não havia estudos sobre indígenas isolados, nem sobre o risco de desmatamento nas terras indígenas aumentar, e nem uma previsão de que podia acontecer uma perda irreversível de biodiversidade. Foi bem nessa mesma época que entraram em cena as primeiras ações judiciais contra Belo Monte. Hoje, elas já somam mais de 20.
Quem acompanhou de perto tudo, desde o início, foi o procurador da República Felício Pontes, que encabeçou muitas dessas ações.
[Felício Pontes]
Eu acho que o mais importante disso tudo… e o que não nos deixava desistir ou mudar de curso naquele momento, apesar de todas as pressões, era o que vinha da Volta Grande do Xingu, o clamor que vinha de lá. Cada vez que a gente ia para lá, conversava com as comunidades de pescadores, as comunidades indígenas, os ribeirinhos, nós voltávamos arrasados com aquilo que eles já diziam que iria acontecer e eles, conhecendo a Volta Grande, sabiam aquilo melhor do que qualquer pesquisador que pudesse chegar do Brasil, de fora ou de outras partes do Brasil naquela região. E o que eles diziam para a gente foi exatamente o que aconteceu, tudo aquilo de ruim que poderia acontecer com o represamento de um rio na Amazônia.
[Isabel Seta]
O Felício me contou que, numa dessas visitas na Volta Grande, o cacique dos indígenas de Uruna chegou a avisar a ele: “olha, se o rio for barrado, não vai ter água suficiente pra ter peixe”. Sem água, e sem peixe, vai ter praga de mosquito. O alerta do cacique batia exatamente com o que os cientistas tinham previsto naquele estudo independente. Ou seja, tava todo mundo, indígenas, beiradeiros, cientistas, procuradores, ambientalistas, movimentos sociais, todos alertando pro que ia acontecer com a Volta Grande do Xingu.
Isso porque, nos planos da usina, a região onde vive a Sara, o pai dela e centenas de outros ribeirinhos e indígenas ia ser transformada no que, em termos técnicos, eles chamavam e ainda chamam de trecho de vazão reduzida. Quer dizer, na ausência de um grande reservatório, para a usina poder funcionar ia ser necessário desviar a maior parte da vazão, do volume de água, que antes corria pela Volta Grande, para alimentar as turbinas. O que ia sobrar de água para a região ficava muito abaixo da média histórica do rio. Uma quantidade de água que podia ser insuficiente para garantir a sobrevivência dos ecossistemas da Volta Grande.
Os técnicos do Ibama, lá atrás, quando analisaram o processo de licenciamento ambiental, perceberam isso. E colocaram isso nos relatórios. O que eles estavam dizendo, basicamente, era o seguinte: com tão pouca água, a Volta Grande não tinha segurança. Pra ninguém. Nem pras pessoas e nem pra todos os outros seres. Com todos os alertas apontando pro mesmo lugar, o do: “gente, isso vai dar ruim”, talvez fosse um bom momento pro governo parar, pensar bem e falar: “é, talvez não seja uma ideia tão boa assim tirar Belo Monte do papel”. Mas, não foi isso que aconteceu.
[Sara]
Foi assim, a gente fala de goela abaixo porque a gente gritou. A gente falou que não queria a hidrelétrica, mas ela está aí.
[Isabel Seta]
Quando Lula assinou o contrato de concessão, dando sinal verde pro início das obras, a Sara tinha 26 anos. E Belo Monte, a comunidade onde ela nasceu e cresceu, tava prestes a mudar completamente.
[Sara]
Eles não nos escutaram. Nos atropelaram, passaram por cima e fizeram.
[Isabel Seta]
O leilão aconteceu em abril de 2010. E quem levou foi o consórcio Norte Energia, liderado por uma subsidiária da Eletrobras e com participação de outras oito empresas. Nessa lista, estavam a construtora Queiroz Galvão e empresas que não tinham experiência nenhuma na construção de hidrelétricas. Com a vitória, veio também a chave do projeto. O contrato de concessão de 35 anos. 35 anos de controle sobre a operação da usina de Belo Monte.
A construção começou em 2011, no início do governo Dilma. E a Sara lembra bem daquela certeza que ela sentiu de que o seu mundo tava sendo totalmente transformado.
[Sara]
Começaram a fazer uma cratera de 100 metros pra baixo do chão. Ali, naquele momento, os peixes já começaram a sentir o impacto. Em 2011. Começaram já a sentir. Porque tremia, o chão tremia. Qualquer som, qualquer coisinha, o peixe já sabe. Tu pisando na beira, na beira da água, o peixe te sente. Tu já pensou em uma explosão que eles colocavam, que ele explodia, como é que ele não ficava dentro da água? A gente sentia, a gente escutava. O BUM! Era tipo assim, eles fazendo aquela enorme caixa d ‘água pra armazenar água. Armazenar água pra geração de energia.
[Isabel Seta]
Era só o começo. Depois das explosões e da cratera, vieram 3 milhões de metros cúbicos de concreto. E 160 mil toneladas de aço. O que daria pra construir 37 maracanãs e 22 torres Eiffel. Um negócio descomunal. Imenso. Uma muralha no meio do rio. Mas ainda ia ficar pior.
[Sara]
E aí em 2016, abriram as primeiras turbinas. Em 2015, 2016, aí que tudo começou a desandar. Aí começou aquela desordem onde o peixe ficou desorientado. Nesse momento a gente já sentiu que tudo mudou no rio. Porque não era mais o rio. A gente viu as corredeiras se desvalindo, morrendo aos poucos.
[Isabel Seta]
Quando a Sara fala do peixe desorientado, é literal mesmo. Com o fluxo das águas agora controlado pela hidrelétrica, os sinais ficaram confusos. O rio não sobe e desce mais como antes. E os peixes não conseguem mais entender esse movimento. Pra saber qual é a hora certa de entrar nas áreas alagadas e se reproduzir. Aquele ciclo milenar de seca e cheia, de uma hora pra outra, foi quebrado.
[Sara]
Ele foi violado, ele foi arrancado à força pela usina.
[Isabel Seta]
A natureza deixou de ser a força que animava o rio.
Para a usina funcionar a fio d ‘água, sem o lago gigantesco típico das outras hidrelétricas, tiveram que fazer não uma, mas duas barragens e dois reservatórios menores. Foi preciso intervir pesado no curso natural do rio. O Xingu foi dividido, redirecionado, represado. O primeiro reservatório foi feito no próprio leito do Xingu, alargando o curso do rio. Para isso, tiveram que construir uma barragem, chamada Sítio Pimental.
Essa barragem cortou o Xingu. De um lado, fez do rio um reservatório. Do outro, na Volta Grande, o curso original do rio foi mantido, mas ele ficou praticamente sem água. Entre 70% e 80% das águas que antes corriam pela Volta Grande foram barradas pela Pimental. Barradas pra serem desviadas por meio de um canal pra outro reservatório. Esse totalmente artificial, que foi criado pra regular a quantidade de água que vai passar pelas turbinas da casa de força principal, que tá lá na outra barragem, o Sítio Belo Monte.
Então, hoje funciona assim: quando a Norte Energia abre as comportas da barragem Pimental, mais água passa pra Volta Grande. Quando ela fecha as comportas, a água que antes ia pra região é desviada pra poder gerar energia. É um jogo de abrir e fechar, de liberar ou segurar o rio. A Sara tem um outro jeito de explicar isso:
[Sara]
Então, hoje em dia é um ciclo que quem tá mandando hoje é a Norte Energia. É a hidrelétrica. A natureza, ela tá presa. Ela foi presa, ela tá sendo massacrada. O Rio Xingu, ele tá sendo escravizado. Pelo maldito desenvolvimento, onde o desenvolvimento, que é essa maldita energia, que é um desenvolvimento que não serve pra mim, que sou pescadora, sou beiradeira, sou mãe. Entendeu? Sou uma liderança aqui.
[Isabel Seta]
E não bastasse a quantidade de energia gerada, na média, tá bem abaixo do planejado. A hidrelétrica não tá gerando a energia que prometeu. Entre 2020 e 2024, período em que a gente teve muitos momentos de seca, vamos lembrar, a hidrelétrica gerou, em média, por ano, o equivalente a 31% da potência instalada total. Um percentual que tá abaixo do que o próprio planejamento do projeto estipulava como média. Mesmo assim, pra poder gerar essa energia, a Volta Grande permanece sem água. E isso não é pouca coisa.
[Sara]
Não foi só um impacto, não foi só as piracemas. Para nós aqui houve bastante impacto. As piracema é fundamental, é o berço de toda uma vida, que é a reprodução do peixe. A gente está falando também da floresta fluvial. Está morrendo pela falta de água. Porque é lá que o peixe ia reproduzir. Porque sem a água inundar os igapó, o peixe não vai reproduzir. A gente está falando do fruto do peixe que está caindo no seco. A gente está falando do sarão que está morrendo. A gente está falando da bananinha. A gente está falando da goiabinha, de vários outros frutos. Da capurana, de todos os frutos. Da caferana, que depende da água, que é seis meses cheio, e seis meses seco. Há mais tempo no seco do que água. Essa mata está morrendo.
[Isabel Seta]
Mas é que não era pra ser assim. Os impactos deveriam, podiam ter sido contidos. Mitigados, no termo técnico. Antes da usina começar a funcionar, o Ibama concedeu uma licença de operação com dezenas de medidas de compensação. São as chamadas medidas condicionantes. No papel tava tudo ali, bem estabelecido. A usina tinha obrigações claras. Do tipo, monitorar a qualidade da água do Xingu, fazer a reurbanização da Orla de Altamira, realocar famílias removidas pelas obras, criar e tocar programas de preservação ambiental e de desenvolvimento social. Era o que se chamava de compensações. Tipo uma troca. Já que o impacto era inevitável, a Norte Energia ia ter que, pelo menos, cuidar das consequências.
Uma das principais condicionantes da licença de operação tá justamente ligada à Volta Grande. Essa condicionante diz que a Norte Energia tem que controlar a vazão de água na região de forma a reduzir todos os impactos. Na qualidade da água, na fauna, na vegetação e nos modos de vida das populações tradicionais da Volta Grande. O problema é que esse compromisso não tá sendo respeitado.
[Sara]
Ai os nossos filhos, que hoje muitos que estão nascendo por agora e os que não conseguiram ver o que era o rio Xingu antes, a gente conta a história do que foi o rio Xingu. É triste, porque hoje em dia ele vê a piraiba, que é o filhote, por foto. Ele vê por foto. E não é… Assim, tem gente que conta uma história, que essa história eu consegui alcançar pelo meu pai, eu vi o rio, o que era o rio Xingu. E hoje eu estar falando pro meu filho o que era o rio e ele não poder ver o que era o rio Xingu, que eu vi, que eu presenciei, não é bom, é triste. É triste a gente contar a história de um rio que está sendo morto. Morto, está sendo devorado pela ganância. E ai eu quero saber se o dinheiro que eles tão fazendo. Se eles vão beber dinheiro.
[Isabel Seta]
Mas essa história ainda não acabou. E como dizem os beiradeiros e indígenas com quem eu conversei, ela não é um fato consumado.
E é aqui que a gente chega num ponto crucial, que é justamente o momento que pode definir os próximos capítulos dessa história. A licença de operação da usina venceu em 2021, mas a Norte Energia pode continuar operando até a licença ser renovada ou não. Já sabe com quem tá essa bola, né? Sim, com ele, o Ibama. Talvez o órgão que tenha passado por mais pressão nesse governo Lula 3 por causa do projeto da Petrobras de perfurar a margem equatorial na foz do rio Amazonas, atrás de petróleo.
[Suely Araújo]
E o Ibama tem estudado entre os muitos programas derivados das condicionantes da licença de operação que vão desde ribeirinhos e a lidar com a questão da vazão na Volta Grande até o saneamento na cidade de Altamira.
[Isabel Seta]
Essa, de novo, é a Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima.
[Suely Araújo]
Então tem um monte de programas diferentes, recursos para fiscalização ambiental. Então o que o Ibama faz quando tá analisando esse pedido de renovação da LO é pegar cada um desses programas e ver como tá.
[Isabel Seta]
A LO, que ela comenta, é a licença de operação. Até 2022, um levantamento do Ibama mostrou que das 47 condicionantes da licença, só 13 tinham sido integralmente cumpridas pela Norte Energia. Ou seja, não estão respeitando nem o combinado que eles mesmos fizeram. Um dos pontos que continuam abertos é justamente o controle da vazão da Volta Grande.
Eu procurei a Norte Energia com várias perguntas sobre as medidas condicionantes e sobre a vazão da Volta Grande. A empresa me respondeu com um texto corrido, dizendo que a quantidade de água pra Volta Grande foi estudada e estabelecida pelo Estado brasileiro no leilão de concessão da usina e que o atual modelo é uma medida de mitigação ambiental. A Norte Energia também disse que investiu 8 bilhões de reais em ações socioambientais na região. Nas palavras da empresa, abre aspas: “são ações transformadoras que vêm proporcionando melhor qualidade de vida e moradia para as pessoas”. Fecha aspas. Você pode ler a nota completa no nosso site, apublica.org.
Eu também fui atrás do Ibama para saber como é que tá a análise das medidas condicionantes no processo de renovação da licença. O órgão me respondeu que se trata de uma avaliação técnica, complexa e multidisciplinar e que, por isso, não tem uma previsão definida para a conclusão.
Mas o momento em que essa análise do Ibama tá acontecendo não é qualquer um. É bem significativo. Em 2025, o Brasil será sede da mais importante conferência global sobre as mudanças climáticas, a COP30. Um encontro em que os mais de 190 países têm uma missão clara. Eles têm que oferecer um mapa do caminho para o fim do uso de combustíveis fósseis, que estão causando o aquecimento global. As hidrelétricas são tidas como fontes de energia bem mais limpas do que as termelétricas movidas a carvão ou a diesel. Mas, para funcionar, elas precisam de água, um recurso que está ficando escasso nesses anos de falta de chuvas e aumento de secas extremas. A transformação do clima já chegou. E os povos da Volta Grande estão vendo como é viver nessas condições.
[Sara]
A gente quer que não haja mais nenhum tipo de destruição dos nossos rios, na nossa floresta. Chega de exploração. Que nem estão querendo explorar o petróleo na Amazônia. Chega, gente. Chega. A natureza não tá aguentando mais. A gente tá entrando no colapso. A gente tá entrando no colapso climático.
[Isabel Seta]
No próximo episódio, a gente vai ouvir o que os povos da Volta Grande têm a dizer sobre esse colapso. E entender o que o desvio da água do Xingu tá provocando nesta região. Até lá.
Xingu em Disputa é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Para fazer essa série, eu li centenas de páginas de documentos oficiais e entrevistei mais de 25 pessoas. Algumas que você ouviu aqui. Deixo meu agradecimento a todas elas.
Esse podcast foi produzido e escrito por mim, Isabel Seta, que viajei a Altamira com o apoio do Instituto Socioambiental. A edição dos roteiros é da Giovana Girardi, com colaboração da Cláudia Jardim. Sofia Amaral faz a direção da locução e a coordenação geral da série. A pesquisa de arquivos é da Rafaela de Oliveira, da Stela Diogo e minha. A locução foi gravada no estúdio da Agência Pública, com trabalhos técnicos da Stela Diogo e do Ricardo Terto. O design de som, edição e finalização por Pedro Pastoriz, com trilhas sonoras do Epidemic Sound. A identidade visual é do Matheus Pigozzi. A equipe de divulgação é formada por Marina Dias, Lorena Morgana, Renata Cons, Leticia Gouveia, Ethieny Karen, Ester Nascimento, Edgar Chulve e Vanice Christine.
Nesse episódio, a gente usou áudios de TV Brasil, Arquivo Nacional, Repórter Brasil, TITV Weekly e Studio Line Films. Os sons de ambiente gravados em Altamira são do Instituto Socioambiental e foram captados pela fotógrafa Jennifer Bandeira. Raimundo da Cruz e Silva, gentilmente cedeu áudios captados na sua comunidade no Xingu.
Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Até o próximo episódio.